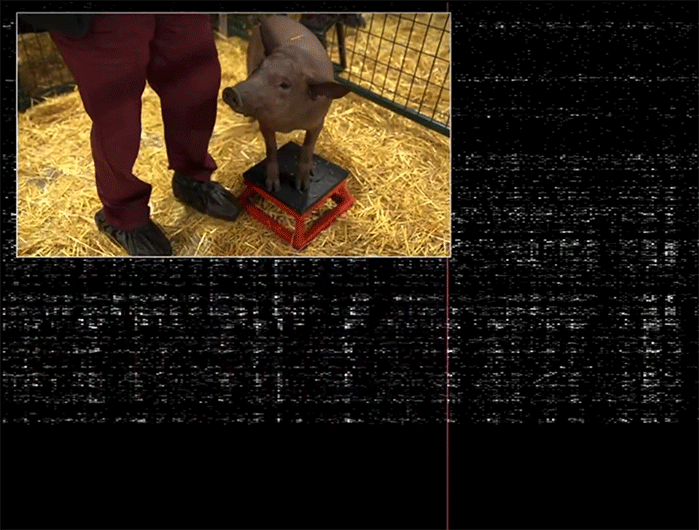Anarquismo e 1º de Maio no Brasil
Por Milton Lopes (*)

Manifestação operária em 1º de Maio de 1919 no Rio de Janeiro. Reproduzida da Revista da Semana, 10 de maio de 1919.
O Brasil conhecerá seu primeiro grande surto de industrialização a partir da última década do Império (1881-1889). Apesar do grosso da economia do país ainda assentar na exportação em grande escala de matérias primas e produtos agrícolas (com predominância para o café nesta fase), o número de estabelecimentos industriais, que era pouco mais de 200 em 1851 sobe para mais de 500 em 1889. Do total do capital investido nas atividades industriais naquela época, 60% concentram-se na indústria têxtil, 15% na da alimentação, 10% na de produtos químicos, 4% na indústria de madeira, 3,5% na do vestuário e 3% na metalurgia. Estas atividades produtivas manterão suas posições neste ranking durante as décadas seguintes. No período de 1890 a 1895 serão fundadas mais 425 fábricas, com investimento equivalente a 50% do capital investido no início dos anos 1880. Um primeiro censo geral das indústrias brasileiras realizado em 1907 mostrará a existência de 3.258 estabelecimentos industriais, empregando 15.841 operários. 33% destas fábricas estavam localizadas no Rio de Janeiro, então capital da recém proclamada república (1889), percentual a que se poderiam somar os 7% do antigo estado do Rio de Janeiro, 16% em São Paulo e 15% no Rio Grande do Sul. A hegemonia industrial do Rio de Janeiro cederia para São Paulo no período entre 1920-1938. A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) dará grande impulso à indústria nacional, com a diminuição da importação dos países envolvidos no conflito e também com a diminuição da concorrência estrangeira, devido à forte queda do câmbio.[1]
O período do início desta primeira industrialização do país coincide com a abolição jurídica da escravidão, trazendo alteração na política do Estado brasileiro em relação à mão-de-obra, passando o governo federal e os dos estados a elaborar leis e programas de subsídio à imigração de trabalhadores europeus e mais tarde asiáticos (japoneses). Entre 1871 e 1920, 3.390.000 imigrantes chegaram ao Brasil. 1.373.000 eram italianos, 901.000 portugueses e 500.000 espanhóis. A maioria deles estabeleceu-se no estado de São Paulo, cujo governo foi o mais ativo na criação de subsídios à imigração. A atividade a que os imigrantes eram inicialmente destinados era a agricultura, porém grandes parcelas encaminhavam-se para os grandes centros urbanos em função da nascente industrialização do país, em parte financiada pelos próprios fazendeiros.[2] A imensa maioria destes imigrantes europeus tomou conhecimento da chamada “questão social” após sua chegada ao Brasil, e não vieram de seus países de origem já imbuídos da ideologia anarquista, desmentindo a imagem da “planta exótica” transplantada para o meio do trabalhador brasileiro cordato e bom. As condições de vida e de trabalho no campo e nas cidades por si já conduziam à luta social. Everardo Dias escreve, a propósito:
“O exíguo grupo capitalista, aglutinado em oligarquia patronal, que se havia abalançado à criação de fábricas geralmente de tecelagem e metalurgia, estabelecera seus cálculos sobre uma base salarial baixíssima, salário de escravo, exploração bruta do braço humilde que se encontrava com abundância no país, gente de pé descalço e alimentação parca (um punhado de farinha de mandioca, feijão, arroz, carne seca) artigos alimentares baratos e abundantes no mercado; café adoçado com mascavo, e um pouco de farinha, pois pão era artigo de luxo, bem como o leite, a carne, os condimentos, os legumes (esses últimos desconhecidos na casa do trabalhador). E quanto à moradia, estava confinada em barracões de fundo de quintal, em porões insalubres, em casebres geminados (cortiços), próximos às fábricas e pelos quais pagava de aluguel mensal 15, 20, 30 mil réis. Esse proletariado fabril, em grande parte feminino e constituído de mocinhas, era o preferido para a indústria têxtil, trabalhando das 6 da manhã às 7 e 8 horas da noite. (…) Na indústria metalúrgica ou mecânica o número de menores também era predominante, sendo que aqui o sexo aceito era o masculino. (…) Todos, ou quase todos, analfabetos, supersticiosos, tímidos, humilhados por palavrões e insultos depreciativos. Ignorância total. Ser dispensado do serviço significava mais fome, mais miséria em casa. Encarava-se o desemprego com arrepios de terror.”[3]
Já os patrões julgavam “estar prestando um grande favor, praticando um ato de benemerência em dar trabalho para proteger essa pobre gente esfomeada… Os gerentes e diretores assumiam, por isso, ares altaneiros e superiores de grão-senhores, aos quais só se podia falar de chapéu sobre o peito, fazendo vênia de beija-mão, numa humildade de escravo.”[4]
E é em uma São Paulo ainda com poucas fábricas que dezessete militantes operários reúnem-se no centro da cidade, à rua Líbero Badaró, número 110, a 15 de abril de 1894. Ali é aprovada a resolução do Congresso Socialista de Paris de 1889, que instituía o 1º de Maio como dia de luta e de protesto contra a condenação e execução dos mártires de Chicago. Os presentes pretendiam mesmo estudar a melhor maneira de comemorar o 1º de maio vindouro. Mas a reunião foi suspensa com a chegada da polícia, mobilizada por uma denúncia, segundo se acredita, do cônsul italiano. O grupo era composto por brasileiros e imigrantes italianos. Espancados e advertidos de que se persistissem em agitar os operários seriam castigados exemplarmente, foram separados em dois grupos, sendo dez deles, os de origem italiana, encaminhados à Casa de Detenção do Rio de Janeiro, de onde só seriam liberados a 12 de dezembro.[5] Ao chegar à cidade de Santos para embarque para o Rio de Janeiro, um deles, Artur Campagnoli, teria conseguido fugir lançando-se ao mar, depois de ter perguntado durante a viagem de trem aos policiais de sua escolta se sabiam nadar.[6] Campagnoli, ourives de profissão, depois de passagens pela França e pela Inglaterra, instalara com seu irmão Luciano uma colônia libertária na cidade de Guararema no interior de São Paulo já nos últimos anos da monarquia (1888).[7]
A polícia de São Paulo colocou-se de prontidão no dia 1º de Maio daquele ano, temendo manifestações operárias e conflitos, que não ocorreram. No entanto, bombas explodiram em dois palacetes da burguesia paulistana e outra no Largo do Carmo, próximo ao quartel do 5º Batalhão de Polícia.[8]
A libertação dos que passaram meses presos no Rio, segundo texto de um deles, Felix Vezzani, enviado ainda da prisão e publicado no jornal Il Risveglio (São Paulo, 2 de dezembro de 1894) só seria possível graças à intervenção do Apostolado Positivista junto ao recém empossado Presidente da República, Prudente de Moraes.[9] Avisados por telegrama de sua libertação, os companheiros de São Paulo acorreram à estação ferroviária para saudar os camaradas que voltavam da então capital federal, furando o cordão de isolamento de soldados com baioneta calada, unindo-se aos libertos no canto da Internacional.[10]
Colônia Cecília

Os italianos envolvidos no episódio, dentre os quais estavam Eugenio Gastaldetti, Félix Vezzani, Augusto Donati, Artur Campagnoli, Galileo Botti, eram alguns dos militantes pioneiros do anarquismo em São Paulo e no Brasil.[11] No entanto, também havia socialistas entre eles e os militantes brasileiros. A própria reunião desbaratada pela polícia intitulava-se Segunda Conferência dos Socialistas Brasileiros. Alguns dos italianos tornaram-se anarquistas no Brasil, como foi o caso de Vezzani.[12] O anarquismo estava presente no Brasil desde o final da década de 1880 com a experiência dos irmãos Campagnoli já citada e a Colônia Cecília, fundada em 1890 no estado do Paraná pelo agrônomo e veterinário anarquista italiano Giovanni Rossi em 1890.[13] A cooperação, neste final de século XIX e início do movimento operário no Brasil, entre socialistas e anarquistas refletia a conjuntura internacional em que os anarquistas esforçavam-se por participar da Segunda Internacional, fundada em 1889, estando representados em vários congressos socialistas realizados na Europa, inclusive no I Congresso Internacional Operário Socialista, ocorrido em Paris de 14 a 21 de julho de 1889, responsável pela adoção da data de 1º de Maio como Dia Internacional do Proletariado e da jornada de 8 horas de trabalho como bandeira de luta do proletariado universal.[14] Esta situação persistirá até o IV Congresso Socialista Internacional de Londres, de 26 de julho a 2 de agosto de 1896, em que os anarquistas são definitivamente expulsos, realizando seu próprio congresso também naquela cidade de 29 a 31 de julho (IV Congresso Anarquista).[15]
Desde o congresso socialista de Paris em 1889, só em 1891 é possível encontrar uma primeira referência a comemorações de 1º de Maio no Brasil. No 1º de Maio daquele ano, circula em São Paulo uma edição única de jornal com aquele título, o que vem a se repetir no 1º de Maio do ano seguinte, só que desta vez o título era em italiano (Primo Maggio), estando a publicação, de tendência anarquista, a cargo de Achille de Santis.[16] Ainda em 1892 é lançado o jornal Um de Maio, saído no Rio de Janeiro. O 1º de Maio de 1892 no Brasil veria ainda publicado um artigo do escritor Euclides da Cunha (1866-1909) publicado no jornal O Estado de São Paulo com um início que se tornou célebre: “extraordinário amanhecer o de hoje nas velhas capitais da Europa…”.[17] No texto de seu escrito, Euclides, embora louvando as mobilizações operárias em torno da data, condena os “exageros de Proudhon”, considerando que “toda a sua (do operariado) força está nesta arregimentação, que ora desponta à luz de uma aspiração comum; a anarquia é justamente o seu ponto vulnerável – quer se defina por um caso notável de histeria – Louise Michel – ou por um caso vulgar de estupidez – Ravachol”.

Euclides da Cunha
A condenação ao anarquismo por Euclides devia ser estreitamente ligada às ações dos anarquistas “bombistas”[18] na França, cujas atividades e processos judiciários tiveram ampla divulgação na imprensa brasileira naquele momento, com grande destaque para o caso de Ravachol, citado por ele em seu artigo. Euclides da Cunha, militante republicano, havia sido afastado da Escola Militar no Rio de Janeiro em 1888 devido a um protesto que protagonizou perante o ministro da guerra da monarquia durante visita deste àquele estabelecimento. A seguir, passou algum tempo em São Paulo, onde, do final daquele ano até o início do seguinte, publicou uma série de artigos sob o pseudônimo de Proudhon no então Província de São Paulo.[19] Em um deles, contradizendo seu escrito posterior, considera Proudhon o “pensador mais original de nosso século”, afirmando mesmo que os republicanos do Brasil poderiam intitular-se anarquistas no sentido da lógica proudhoniana e não na de inimigos da ordem que lhes atribuíam.[20] Euclides, de seu republicanismo inicial, teria evoluído para um vago socialismo, tendo, a partir daí, cessado sua trajetória ideológica, “tendo estagnado sua marcha inquieta de pensador de novos rumos para a cultura brasileira, dedicando-se unicamente ao seu métier de escritor, burilando os períodos, descarnando-os de qualquer ganga, deixando-os lisos e velando mais pela arquitetura formal do que pelo destaque da essência.”[21]. A Euclides também é atribuída a autoria (junto com Francisco Escobar) do manifesto do Clube Internacional Filhos do Trabalho, lançado em 1º de Maio de 1901. Alguns contestam sua participação na redação do documento[22], alegando que este se trata apenas de uma exposição do que significaria a data, com apelos a um vago socialismo de fundo humanitário. No entanto, argumenta-se que uma comparação deste texto com os outros dois sobre o 1º de Maio assinados por Euclides revelam bastante semelhança nos conceitos apresentados.[23] A 1º de Maio de 1904, Euclides publicaria o artigo intitulado Um Velho Problema mais uma vez no Estado de São Paulo, em que afirma que foi com Marx (“este inflexível adversário de Proudhon”) que o socialismo científico começou a usar uma linguagem firme, compreensível e positiva”, dizendo acreditar nas posições socialistas “corretamente evolucionistas e que se chegaria ao socialismo através do processo normal de reformas lentas, operando-se na consciência coletiva e refletido-se pouco aos poucos na prática, nos costumes e na legislação escrita, continuamente melhoradas”.[24]
Para o ano de 1892, valeria destacar também comemoração que os socialistas teriam realizado na cidade de Santos e a primeira comemoração pública do 1º de Maio em Porto Alegre, promovida pelo semanário L’Avennire, editado naquela cidade desde 21 de fevereiro daquele ano, por um grupo de italianos oriundos da Colônia Cecília, fundada pelo anarquista Giovanni Rossi no Paraná. Tendo como lema a divisa em latim Labor Omnia Vincit (O Trabalho Vence Tudo), este jornal tirou poucas edições, e contava entre seus colaboradores com o médico Francisco Colombo Leoni, Gio Paolo Locatelli e Egidio Gianinni. O jornal terminou quando estourou a chamada Revolução Federalista no Rio Grande do Sul no ano seguinte, depois de um duelo entre Colombo Leoni e Cesare Pelli, diretor do jornal O Italiano, também editado naquela cidade.[25]
Os anarquistas que tentaram organizar manifestações no 1º de Maio de 1894 em São Paulo, embora libertados da prisão em dezembro daquele mesmo ano, continuaram sob vigilância policial. E tão logo saíram da prisão voltaram a juntar esforços para que já no ano posterior houvesse uma comemoração do 1º de Maio na capital bandeirante. Na noite de 17 para 18 de março de 1895 a polícia paulistana prendeu Luciano Campagnoli e Attilio Venturini, quando estes distribuíam e colavam nos muros manifestos anarquistas pelos subúrbios da cidade. A seguir, a polícia procedeu a buscas nas casas de diversos militantes, apreendendo numerosos livros e publicações de propaganda revolucionária e procedendo à prisão de Artur Campagnoli, Giuseppe Consorti, Ludovico Tavani e Andréa Alemo. Segundo relatório do chefe de polícia de São Paulo, Bento Pereira Bueno “do interrogatório dos presos saiu a confissão franca de que eram propagandistas convencidos e ardentes do socialismo anarquista, solidários com todas as manifestações dessa crença”.[26] O 1º de Maio de 1895 conseguirá ser comemorado no litoral do estado, em Santos. A cidade possuía um Centro Socialista com biblioteca, fundado por Silvério Fontes (médico sergipano radicado na cidade, cujo filho, o poeta e também médico Martins Fontes seria um destacado anarquista durante toda a vida), Sóter Araújo e Carlos Escobar.[27] Este grupo passaria editar a revista quinzenal A Questão Social a partir de setembro do mesmo ano e que já no 1º de Maio de 1896 lançaria sua edição número 15.
No interior do estado, em São José do Rio Pardo, outro grupo socialista teria conseguido comemorar o 1º de Maio seguinte, comemoração que teria sido inofensiva, com passeata, banda de música e foguetes. No entanto, tal comemoração, que estaria entre as pioneiras no país, tem sido contestada por memorialistas como Everardo Dias.[28]

Uma característica das primeiras homenagens aos mártires de Chicago era a comemoração não só do 1º de Maio, mas da data de sua execução, que ocorreu a 11 de novembro de 1887. As autoridades também mantinham intensa observação sobre os militantes operários, visando reprimir quaisquer manifestações naquela data. Em 1898, em São Paulo, sua atenção deve ter sido redobrada pelo fato de que no 1º de Maio daquele ano houve uma intensificação da propaganda em todo o estado, tendo diversos oradores realizado conferências em Santos, São Paulo, Jundiaí, Campinas e Ribeirão Preto.[29] Além disso, na capital, no Teatro Politeama, cerca de 2 mil pessoas assistiram a numerosos poemas e discursos feitos por anarquistas como Benjamim Mota e Polinice Mattei. Outro anarquista, Gigi Damiani, recusa-se a tomar a palavra para não provocar desacordo nem suscitar a desordem (a manifestação era promovida em conjunto com os socialistas e houve uma proposta aprovada em assembléia de se encaminhar ao Congresso Nacional uma petição com reivindicações operárias). À tarde houve uma passeata pelas ruas do centro da cidade até o Largo de S. Francisco e, à noite, a representação da peça teatral Capital e Trabalho.[30] A 20 de setembro, Polinice Mattei seria morto a tiros por membros da sociedade patriótica italiana Unione Meridionale, estreitamente ligada à repressão política de então, e comandada pelo capitão Nicolao Matarazzo, ao participar de contra-manifestação à comemoração de data patriótica italiana promovida pela Unione Meridionale. Seu enterro, que partiu da Santa Casa, foi severamente vigiado pela polícia e a multidão por pouco não foi dispersada pela cavalaria, quando oradores se sucediam à beira da sepultura de Mattei.
A 10 de novembro, anarquistas e socialistas, tais como Gigi Damiani, Bruschi, Zeferino Bartolomazzi, Benjamim Mota e Estevão Estrela, assinam um manifesto conjunto sobre a data do dia seguinte. Benjamim Mota (1870-1940), advogado e jornalista, inicialmente republicano e abolicionista ao final da monarquia, começara a interessar-se pela questão social durante as comemorações do 1º de Maio de 1897 e no decorrer de 1898 dirigira duas publicações anarquistas e publicara o primeiro livro sobre anarquismo de autor brasileiro, Rebeldias[31], contendo crônicas publicadas na imprensa paulistana.
Na noite de 10 de novembro de 1898 a polícia emitiu ordem de prisão contra todos os signatários do documento. Damiani, Bruschi e Bartolomazzi foram arrancados de suas casas durante a noite e Estevão Estrela preso em um baile a que fora com a família. Mota resistiu à investida policial em sua casa, ameaçando atirar em quem invadisse seu domicílio, acabando por escapar à prisão.[32] A polícia querendo jogar a opinião pública contra os militantes detidos, emitiu um boletim em que afirmava haver prendido dois anarquistas que pretendiam envenenar os reservatórios de água que abasteciam a cidade. O jornal O Estado de São Paulo em seu noticiário endossou as alegações policiais. Mota e Estrela vieram a público pelas colunas d’A Platéia, com veemente artigo desmentindo as infâmias da repressão. Processados pelo policial Rangel de Freitas, este acabou por retirar a queixa.[33] A partir de 1900, a comemoração do 11 de novembro tornou-se mais difícil, pois a data coincidia com o aniversário do recém entronizado rei da Itália, Vitório Emanuel III (seu antecessor, o rei Humberto, fora morto pelo anarquista Gaetano Bresci), alegando a polícia que a comemoração nesta data constituiria uma ofensa às representações diplomáticas italianas. No entanto, a repressão continuou também sobre o 1º de Maio. No ano anterior as manifestações em São Paulo foram reprimidas, conforme noticiou até mesmo a imprensa de outros estados, como o Diário da Tarde de Curitiba, que a 5 de maio noticiava “ontem, em São Paulo, muitos anarquistas fizeram grande passeata dando vivas sediciosos. A polícia dispersou-os”.[34]
Em 1902 é enviado projeto de lei à Câmara dos Deputados, tornando a data feriado nacional, o que só viria a acontecer mais tarde. A imprensa burguesa passa a enaltecer a data com uma retórica vazia, que busca mascarar seu verdadeiro significado para o proletariado mundial, como o Diário da Tarde
de Curitiba, no 1º de Maio de 1902:
“Cônscios de que representavam uma força poderosa, procuraram os operários unir-se, congregar-se sob a égide brilhante do amor e da paz, e, qual novos cruzados, caminham desassombradamente à conquista da Jerusalém do futuro. Para as almas exaustas de sofrimento, a esperança é o bálsamo suavizador por excelência. Aí esse anseio, esta alegria sã, que emana de todos os corações, no dia de hoje, florescidos como uma promessa de um futuro de absoluta justiça.”[35]
As autoridades permitem sua comemoração, desde que esta ocorra em ambiente fechado, como nos conta Everardo Dias:
“Aqui, em São Paulo, começou a comemorar-se a data de 1º de Maio, desde 1903 ou 1904, mas sempre em locais fechados, em salões a pagamento, sob a forma aparente de festivais, levando à cena dramas de profunda compreensão humana, como João José, O Infanticídio ou Crime Jurídico, uma conferência em seguida e depois baile, que era o chamariz para a juventude. (…) Mas sempre em locais fechados, salões de aluguel, até que se conseguiu organização através das Ligas de Resistência e se obteve consentimento policial, sob responsabilidade, para um comício em praça pública. (…) Como sempre acontece, após o comício, veio o desfile pelas ruas da cidade, com cânticos (A Internacional, Filhos do Povo, Primeiro de Maio).”[36]

Manifestação operária em 1º de Maio de 1919 no Rio de Janeiro. Reproduzida da Revista da Semana, 10 de maio de 1919.
O fato de o 1º de Maio no início do século XX já se achar enraizado como data dos trabalhadores entre os operários é demonstrado pelo fato de que em abril de 1904 um grupo de dezesseis trabalhadores da construção civil de Santos haver fundado um sindicato com a denominação de Sociedade Primeiro de Maio, de que foi eleito presidente o anarquista Severino Gonçalves Antunha. A Sociedade instalou uma biblioteca e um curso para os sócios, entrando imediatamente no terreno das reivindicações sociais. Santos, então segundo porto do país, havia esmagado a concorrência de portos menores no escoamento da produção de café de São Paulo, em decorrência da construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí em 1867. Em breve seria denominada a “Barcelona brasileira”, em vista da combatividade dos que ali trabalhavam, em luta contra a poderosa Companhia Docas de Santos, com monopólio para explorar o porto, concedido pelo governo federal e uma polícia extremamente violenta e arbitrária na repressão a movimentos grevistas.[37]
Quanto aos desfiles operários pelas ruas, estes constituíam uma prática adotada mesmo em outras ocasiões que não o 1º de Maio. O jornal da categoria dos padeiros do Rio de Janeiro, O Panificador, em sua edição de 1º de janeiro de 1900, reproduziu um relato de M. S. Pinho sobre comemorações ocorridas a 15 de dezembro do ano anterior, com um desfile daqueles trabalhadores pelas ruas do centro do Rio, que contou com o concurso da banda de música do 3º batalhão de infantaria do corpo de polícia. Indo à redação do Jornal do Brasil, delegados dos padeiros receberam o estandarte da associação ali depositado. O cortejo seguiu em visita às redações dos demais jornais então editados no Rio, presenteando os jornalistas com cartões-cromo alusivos à data. Tendo como destino o Cassino Espanhol, os trabalhadores ali se detiveram para uma sessão solene, capitaneada por Evaristo de Moraes, advogado ligado ao incipiente sindicalismo de então e preocupado com a organização dos operários no jogo da política institucional.[38]
Os cortejos operários, animados por bandas de música, com queima de fogos de artifício, conferiam um ar festivo às comemorações operárias. O que se convencionou chamar de “carnavalização” das datas operárias. Este aspecto das manifestações operárias também ocorria no 1º de Maio, principalmente no Rio de Janeiro, provocando a crítica severa dos anarquistas, que ali enxergavam o desvio do foco daquela data como dia de luta e protesto dos trabalhadores, servindo assim aos propósitos alienantes de patrões e autoridades.
Desta forma, o jornal anarquista A Greve, que começou a ser publicado no Rio de Janeiro justamente a 1º de Maio de 1903, em sua edição número 2, de 15 de maio, comenta o 1º de Maio passado. Em matéria assinada por Pausílipo da Fonseca (1879-1934), este chamou a atenção para o fato de que
“(…) regozijou a imprensa burguesa com o fato dos festejos do primeiro de maio assumirem um caráter francamente carnavalesco, e felicitou o operariado desta cidade por ter solenizado a significativa data de maneira tão ridícula e deprimente. Confrangeu-nos o coração vermos tantos homens servirem de instrumentos inconscientes a uma detestável mascarada, percorrendo as ruas sob o batuque de bandas marciais e a estacionarem de redação em redação para ouvirem discursos que eram verdadeiros insultos atirados às suas faces. (…)”[39]
O 1º de Maio do ano seguinte não decorreu de forma melhor. A 14 de maio de 1904, Manuel Moscoso (?-1912) comenta como transcorreu a data no Rio no Amigo do Povo, jornal anarquista publicado em São Paulo desde 1902. Iniciando seu artigo de maneira irônica, diz que a burguesia fluminense a princípio deve ter se assustado com a grande movimentação nos meios operários nos dias que antecederam o 1º de Maio, pensando tratar-se talvez de preparativos revolucionários.
Segundo Moscoso, logo o medo dos burgueses passou, ao verificarem que “toda aquela atividade era destinada a preparar coisas mais importantes do que todas as emancipações do mundo: os estandartes e as coroas, as bandeiras para as sedes das associações, as bandas de música da polícia, exército e marinha, as fitinhas – a 500 réis cada uma – para o braço ou para os lapéis, as missas por alma de companheiros mortos, e assim por diante”.
Moscoso prossegue deplorando “o estado de incultura em que se encontra a classe operária desta capital”, já que ali os operários teriam interpretado o 1º de Maio como qualquer festa religiosa. Ainda de acordo com Moscoso, naquele 1º de Maio puderam ser observados:
“Estandartes alusivos a datas e pessoas (santos), coroas sobre andores carregadas ao ombro por crianças, hinos à liberdade, à humanidade, à paz universal (outros tantos santos e virgens), inaugurações com profusão de bandeiras, sessões solenes onde oradores (…) pregam sermões que terminam exortando o operário a esperar.”[40]
Moscoso destacava ainda em sua crítica ao 1º de Maio daquele ano os elogios da imprensa burguesa às comemorações, reprovando as iniciativas tomadas pela União Operária do Engenho de Dentro, as manifestações de apreço de operários a patrões na fábrica de calçados Globo, o convite a políticos para presidirem cerimônias em associações operárias (no caso o senador Irineu Machado) e a sessão solene da maçonaria. Via apenas como ponto positivo nas comemorações da data naquele ano no Rio o envio pelo Centro das Classes Operárias (“capela onde é adorado o doutor Vicente de Sousa, seu eterno presidente”) de carta de protesto ao Jornal do Brasil, considerando indignas as realizações de tais festas. Embora o caráter festivo de que começava a revestir-se o 1º de Maio fosse mais acentuado no Rio de Janeiro, também ocorria em outras regiões. No mesmo número do Amigo do Povo, em que estava estampada a matéria de Moscoso, também era veiculada correspondência enviada de Porto Alegre pelo Grupo dos Homens Livres condenando atitudes semelhantes ocorridas na capital gaúcha. Em contraste, o jornal apresentava relato dos eventos ocorridos naquela data em São Paulo, que apresentavam um caráter mais libertário.
A questão de se marcar a respeito do verdadeiro sentido do 1º de Maio torna-se já tão importante que o I Congresso Operário Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro, de 15 a 20 de abril de 1906, dedica uma parte de suas resoluções sobre orientação a este tema. Este congresso, realizado na então capital federal, primeiro de uma série de três que se reuniriam depois em 1913 e 1920, contou com a presença de 43 delegados sindicais, e resultou na fundação da Confederação Operária Brasileira, primeira central sindical de caráter nacional, orientada pelos princípios do sindicalismo revolucionário de origem francesa. Suas resoluções incluíam o endosso à idéia de ação direta com método de luta social, da criação de sindicatos com minoras militantes e a não participação dos trabalhadores na política institucional, concentrando-se estes, na luta econômica.

Na parte de suas resoluções voltada para as comemorações do 1º de Maio, o congresso afirmava que os operários aceitavam a existência de uma luta de classes (“que ele não criou, mas se vê obrigado a aceitar”) e que, portanto, “não se pode realizar uma ‘festa do trabalho’, mas sim um protesto de oprimidos e explorados, lembrando o sacrifício dos Mártires de Chicago”. Por conseqüência, o congresso, em suas resoluções, verberava e reprovava
“as palhaçadas feitas no 1º de Maio com o concurso e complacência dos senhores; incita o operário a restituir ao 1º de Maio o caráter que lhe compete, de sereno mas desassombrado protesto, e de enérgica reivindicação de direitos ofendidos, e ignorados; estimula vivamente as organizações operárias à propaganda das reivindicações e afirma o 1º de Maio; (…) o congresso aconselha os operários e respectivos sindicatos que, no caso em que esta data seja decretada dia feriado, iniciem uma forte propaganda no sentido de patentear incompatibilidade da adesão do Estado a tal manifestação, que é revolucionária e de luta de classe, apontando o seu trágico epílogo a 11 de novembro de 1887.”[41]
Além disso, o I Congresso decide, na parte dedicada à ação operária, convidar os trabalhadores a iniciar uma greve no 1º de Maio de 1907, com vistas à adoção da jornada de 8 horas de trabalho.[42]
A greve geral explode no 1º de Maio de 1907[43], tendo como epicentro a cidade de São Paulo. A polícia, de sobreaviso, proíbe a concentração em praça pública naquela data, tendo tropas ocupado a Praça da Sé. No entanto, a Federação Operária de São Paulo convoca para um comício em sua sede às 14 horas, que fica superlotada, sendo ali distribuídos manifestos alusivos à data e jornais sindicalistas revolucionários e anarquistas como Luta Proletária, O Padeiro, O Chapeleiro, Terra Livre e Novo Rumo. Os oradores, inflamados, insistem sobre a questão da jornada de trabalho de 8 horas, conclamando os operários à greve. Chegam notícias de cidades do interior do estado, solidarizando-se com o nascente movimento grevista. A polícia efetua diversas prisões à saída do ato. A 4 de maio, os metalúrgicos entram em greve, seguidos a 5 de maio pelos operários da construção civil. No dia 7 é a vez dos canteiros, serrarias, fábricas de pentes e barbatanas, pintores e lavanderias. Do dia 8 a 22 do mês de maio, mais 18 categorias profissionais juntam-se aos grevistas. As paralisações estendem-se a outras cidades do estado como Campinas, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Itu e Santos.
A 12 de maio os operários do importante Moinho Santista também se declaram em greve, com a polícia como sempre espancando e prendendo grevistas. A 12 de maio os industriais paulistas reúnem-se para deliberar sobre a greve, resolvendo pedir à polícia que intensifique a repressão e à imprensa que não dê muita cobertura aos acontecimentos da greve para não influenciar operários que ainda poderiam vir a aderir ao movimento. Um dos empresários ali presentes declara que as 8 horas não devem ser concedidas, pois os operários passariam o tempo ganho em botequins e festas. A polícia, alguns dias depois, justifica as prisões em massa e a depredação de sedes operárias com o pretexto de que “a greve foi provocada por alguns anarquistas, agitadores de ofício, pagos por governos estrangeiros para matar a nossa indústria.” A greve só terminaria totalmente a 15 de junho, com as diversas categorias paralisadas voltando gradativamente ao trabalho, tendo quase todas as corporações conseguido as 8 horas de trabalho, o que aconteceu tanto em São Paulo quanto em Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara, São Bernardo, São Carlos, Salto de Itú, Jundiaí e Cravinhos.
A partir deste histórico 1º de Maio, a data se fortalece em termos de luta social e de protesto. Pelos anos seguintes, é de se notar a crescente participação do público operário nos eventos da data direcionados para seu sentido real. Pinçando alguns exemplos, no 1º de Maio de 1909 em Curitiba, o orador José Lopes Netto, da Federação Operária do Paraná foi ovacionado ao pronunciar discurso sobre o verdadeiro sentido das comemorações, levando a multidão a cantar em uníssono o hino 1º de Maio do anarquista italiano Pietro Gori. Em sua oração, Lopes afirmou que “a data representava o despertar moral de uma classe pujante e forte, que parecia dormir sobre os louros colhidos nos campos das reivindicações sociais”[44]. Em 1912, sob o tema “organização sindical e protesto contra o custo de vida” houve grande manifestação a partir das 8 horas da manhã no Largo da Concórdia em São Paulo. A seguir, houve um comício da Federação Operária de São Paulo no Salão Celso Garcia, interrompido com a chegada de numerosos operários oriundos dos bairros proletários do Brás e da Móoca, cantando a Internacional e sendo intensamente aplaudidos. À noite realizou-se outro comício no Largo São Francisco, organizado por um grupo de estudantes da faculdade de direito que ali funcionava, que contou com numerosa concorrência, com a multidão permanecendo no local mesmo com a forte chuva que desabou.[45]


A Luta – Porto Alegre, número 44, 1º de maio de 1909. Acervo do AMORJ, coleção ASMOB
Em 1913, em Porto Alegre, destacaram-se as comemorações organizadas pela Federação Operária do Rio Grande do Sul, cujo secretariado contava com a participação de vários anarquistas. Foi realizado um comício que contou com a presença de cerca de 2 mil pessoas. A seguir ouviu-se música, executada pelas bandas da Lira Operária e da Lira Oriental, houve participação em jogos e foram pronunciadas palestras sociais.[46]
Neste contexto, não seria de estranhar que os poetas libertários exercitassem sua lira sobre a data, em uma prática que se tornou tradicional dentro do campo da poética anarquista, produzida tanto por militantes que não eram escritores profissionais, quanto por aqueles que pretendiam seguir uma carreira literária, como no caso do poeta anarquista Max de Vasconcelos (1891-1919), que no 1º de Maio de 1913 publicava na Voz do Trabalhador, órgão da Confederação Operária Brasileira, editado no Rio de Janeiro, e já em sua segunda fase (1913-1915):
“Dia grande e cruel à memória operária
Hinos brancos de Paz. Hinos rubros de Guerra.
A Bandeira do Amor que se fez incendiária…
Data fatal que em si ao mesmo tempo encerra
A promessa do bem ao coração do Pária
E juramentos de Ódio aos senhores da Terra!
Olhar perdido além,
Num sonho em que se vêm o Mundo Comunista
Ou se lembram talvez os mortos de Chicago!
Grande marco militário à suprema conquista
Do país ideal onde se esplaina o Lago
Verde-azul da Concórdia a consolar a vista…
Kalendario! O Sol se ilumina seja
O último a iluminar as grades da prisão
Os muros do Quartel e as fachadas da Igreja;
E amanhã ao brotar do grande Astro o clarão,
Que a seus raios triunfais o Homem por fim se veja
Sobre a Terra cantar, liberto do patrão!…”
A tendência do governo e das classes dominantes em transformar o 1º de Maio em “festa do trabalho” adquire maior impulso a partir da década de 1910. No 1º de Maio de 1914, Neno Vasco (1878-1920), anarquista português que residira e militara no Brasil durante dez anos, alerta na edição alusiva à data da Voz do Trabalhador:
“Eis a festa do 1º de Maio, isto é, a manifestação proletária que a inconsciência de uns, a astúcia e velhacaria de outros e a cumplicidade de todos reduziram em tantas partes a uma absurda ‘festa do trabalho’, como lhe chamam os burgueses complacentes. (…) Vós, só o podereis festejar quando tiverdes conquistado. E é dessa conquista que se trata, tanto no 1º de Maio como nos outros dias.”[47]

A Revolta – Santos, número 7, 1º de maio de 1914. Acervo do AMORJ, coleção ASMOB
Em Santos, o jornal anarquista A Revolta, na mesma data, parece fazer coro ao artigo de Neno Vasco na Voz do Trabalhador:
“Os governos, que sempre tratam de desvirtuar as coisas, já cogitam, em toda parte, de fazer do 1º de Maio um feriado. Quando isto for verdade, trabalhadores, então não se abandona mais o trabalho nesse dia, porque ele será perdido completamente o verdadeiro sentido, e já não será mais um dia de protesto, é o dia 1º de Maio sancionado pela lei.”[48]
No entanto, a consciência do 1º de Maio classista e de lembrança dos mártires de Chicago já se encontra bem difundida entre o operariado brasileiro. Em Manaus, o também anarquista Luta Social conclama neste 1º de Maio:
“Vamos, pois, operários de Manaus! Vamos dizer bem alto que também aqui, neste colossal Amazonas, surgiu e frutificará a árvore grandiosa da Anarquia, que há de albergar a humanidade com a mesma sombra, porque todos somos iguais em direitos.”[49]
A preocupação em esclarecer os operários sobre o real significado da data continuará no ano seguinte em que, já iniciada a Primeira Guerra Mundial, os operários voltam-se para o antibelicismo, tendo, neste sentido, realizado grande comício no Largo de São Francisco no Rio de Janeiro, lugar tradicional de manifestações operárias[50], comício que terminou com passeata pelo centro da cidade com vivas à Internacional dos Trabalhadores e repúdio à guerra. O 1º de Maio seguinte confirmaria o tom antibélico da manifestação internacionalista e antimilitarista do ano anterior, com a publicação anarquista do Rio de Janeiro Na Barricada, escrevendo:
“O Primeiro de Maio, dia simbólico da luta internacional antipatronal está hoje manchado de sangue traidor, nas trincheiras de lama e da degradação das frentes de batalha.”[51]

No 1º de Maio de 1918, com o Brasil já tendo entrado na guerra desde outubro do ano anterior, os operários realizam grande comício no teatro Maison Moderne na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, com a presença de cerca de 3 mil pessoas, em que expressam votos para a conclusão de uma paz em separado entre os proletários de todo o mundo. A revolução ocorrida na Rússia no ano anterior mobilizava os anarquistas e sindicalistas revolucionários, que acreditavam que esta seguiria rumos libertários. Assim, os operários reunidos no Maison Moderne também manifestam sua “profunda simpatia pelo povo russo, nesse momento em luta aberta contra o capitalismo e o Estado”.[52]
A atitude resoluta dos anarquistas em pregar o internacionalismo proletário em tempo de guerra, assim como a inserção em lutas populares como a que foi empreendida contra a alta do custo de vida e o desemprego que se alastrava pelos meios operários em função de menores horários nas fábricas, provocados pela superprodução, assim como a já citada eclosão da Revolução Russa, que enchia de esperanças de transformações sociais os oprimidos, serão os fatores que levarão a que o 1º de Maio de 1919 tenha uma intensa participação dos trabalhadores, principalmente no Rio de Janeiro. O barbeiro e militante anarquista de origem portuguesa Amílcar dos Santos (nascido em 1900), que delas participou, mais tarde relataria:

Manifestação operária em 1º de Maio de 1919 no Rio de Janeiro. Reproduzida da Revista da Semana, 10 de maio de 1919.
“O 1º de Maio de 1919 foi uma manifestação sem precedentes no Rio de Janeiro. A polícia e o governo ficaram preocupados seriamente. Na Avenida Rio Branco, cheia desde a Praça Mauá até a Praça Floriano Peixoto, havia várias tribunas, onde oradores anarquistas defendiam as suas doutrinas sociais, sem o menor constrangimento. Essa grande massa humana, ao longo da Avenida, dava vivas à liberdade e à igualdade. Como a polícia limitou-se, apenas, a observar sem nenhuma interferência ou restrição, as manifestações terminaram em paz. Floresciam, então, as associações operárias. A polícia fechara a Federação (Operária), mas havia o Centro Cosmopolita, a União dos Tecelões, a União dos Operários em Construção Civil, a dos Sapateiros, as duas últimas na Praça da República 45.”[53]
O 1º de Maio daquele ano, já definido como “o mais brilhante do Brasil” teve comício-monstro no Rio organizado pelo Partido Comunista, fundado a 9 de março daquele ano. Apesar do nome, este partido possuía características libertárias e se dissolveria em pouco tempo, ao perceberem os anarquistas os caminhos autoritários e estatais que os bolchevistas imprimiam aos acontecimentos na Rússia, apoderando-se da revolução popular ocorrida naquele país. A então capital federal assistira em novembro de 1918 a uma tentativa insurrecional anarquista, abortada pela repressão policial. Este comício realizou-se em torno da estátua do Visconde do Rio Branco na Praça Mauá, na região portuária do Rio.[54] Os militantes presos em conseqüência da tentativa insurrecional de 1918 foram soltos a tempo de assisti-lo, menos cinco operários detidos em Magé, que foram objeto de uma das moções aprovadas no comício, protestando contra sua detenção. Ao comício, seguiu-se passeata, tendo à frente a comissão do PC libertário com seu pavilhão. Cálculo da época indica que dela teriam participado 60 mil pessoas. Esta se encerrou com novo comício, desta vez de encerramento, com os oradores falando das escadarias do Teatro Municipal.[55]
Mas não só no Rio houve manifestações grandiosas dos trabalhadores. Elas também ocorreram em Niterói, na praça em frente à estação das barcas que fazem o trajeto Rio-Niterói, palco de violentos conflitos entre grevistas e a polícia no ano anterior. Em Recife, operários cantaram em coro a Internacional na sede da Federação Operária de Pernambuco. Em São Paulo não houve comemoração da data, pois 20 mil operários encontravam-se em greve, travando-se numerosos conflitos com a polícia, na capital e em cidades do interior.[56]
Manifestações de tal magnitude voltariam a ocorrer no Rio durante o 1º de Maio de 1922. Embora naquele ano tivesse sido fundado um partido comunista de orientação marxista-leninista, este se uniu aos anarquistas nas comemorações, obedecendo a instruções para formação de frentes únicas, emanada da 3ª Internacional de Moscou.[57]
Em 1923, as comemorações ressentiram-se do estado de sítio vigente no país. Os protestos daquele ano ficaram marcados pela campanha internacional pró-Sacco e Vanzetti, os dois anarquistas italianos presos nos Estados Unidos sob falsa acusação de assalto ao pagamento de uma fábrica e que penariam na prisão durante anos até serem executados na cadeira elétrica em agosto de 1927, em um ato que abalou todos os recantos do mundo. O número de 1º de Maio do jornal A Plebe de São Paulo publicou uma carta de Sacco e Vanzetti dirigida originalmente ao jornal francês Le Libertaire, que foi lida em diversas assembléias operárias durante o dia 1º.[58] Ainda no Rio, à noite houve comícios em várias sedes sindicais.[59] O 1º e Maio de 1923 marcou ainda o lançamento do jornal A Revolução Social, editado pelo grupo de comunistas libertários do Rio de Janeiro e que se organizava desde o início do ano. O grupo levava o título do romance de um de seus principais membros, o escritor Fábio Luz (1864-1938) e se propunha a manter um “anarquismo puro”, considerando que o jornal A Plebe de São Paulo apresentava cada vez mais tendência a adotar o sindicalismo como ideologia, em substituição ao anarquismo, depois da saída de Edgar Leuenroth (1881-1968) de sua redação. O jornal lançou poucas edições, mas provocou polêmica nos meios anarquistas e operários.[60]
1924 será o ano em que os comícios de 1º de Maio no Rio de Janeiro passarão a dividir-se entre dois logradouros públicos. O Partido Comunista do Brasil, a central sindical comandada pelo líder pelego Sarandy Raposo e a União dos Operários em Fábricas de Tecidos conclamam seus filiados a comparecerem a comício na Praça Mauá. A Federação Operária do Rio de Janeiro, sob orientação anarquista, convida os trabalhadores em geral a comício na Praça 11 às 14 horas, após sessão na sede da FORJ ao meio dia. Os participantes do comício da Praça 11, após seu término, dirigem-se em passeata para o da Praça Mauá.[61] No entanto, os dois comícios foram fracos, já demonstrando o quanto as divisões internas nos movimentos sindical e operário, causadas pelos pelegos e pelo PCB, já haviam começado a miná-los no que possuíam em termos de capacidade luta para transformações.
Em São Paulo, os anarquistas denunciaram no texto do manifesto relativo ao 1º de Maio as violências praticadas pelos bolchevistas na Rússia. No entanto, os comunistas fizeram com que estas passagens fossem cortadas da redação final do documento. Os anarquistas demonstraram a seguir como o PCB exercia controle sobre o comitê das associações operárias, por tal motivo tendo censurado o texto original do manifesto. Sucedendo ao orador João da Costa Pimenta (que tinha abandonado o anarquismo pelo PCB) durante os discursos no Salão Celso Garcia, em São Paulo, o militante anarquista Florentino de Carvalho (1878-1947) voltou às acusações contra o PCB, cujos integrantes presentes tiveram que se retirar da reunião sob vaias da platéia.[62] Edgard Leuenroth, por sua vez, respondendo a artigos aparecidos na imprensa do PCB destaca, em A Plebe, a obra de dezenas de anos de luta incessante dos anarquistas.[63]

O Cosmopolita, Rio de Janeiro, número 9, 1º de maio de 1917. Acervo do AMORJ, coleção ASMOB.
Algum tempo depois do 1º de Maio daquele ano, explodiu em São Paulo o chamado “segundo 5 de julho”, alusão aos dois levantes militares que se insurgiram contra os governos da Primeira República (1889-1930). Artur Bernardes, eleito presidente da república e tomando posse em 1922, será o alvo desta segunda e também fracassada tentativa de tomada do poder pelos militares revoltosos. O segundo 5 de julho (o primeiro fora em 1922) significará a decretação de uma série de medidas repressivas por Bernardes, que, na verdade, só ampliará medidas neste sentido que já haviam começado a ser adotadas no governo de seu antecessor, Epitácio Pessoa (1919-1922).
Epitácio, por sua vez, também dera continuidade a antecessores ao deportar grande número de militantes operários de origem estrangeira. Ainda no governo de Pessoa o decreto 4.247, de 6 de janeiro de 1921 sobre a entrada de estrangeiros também regulava medidas de deportação. A 17 de janeiro do mesmo ano era emitido o decreto 4.269 que regulava expressamente a repressão ao anarquismo. A 6 de novembro de 1922, em final de governo, Epitácio Pessoa decretou um “Regulamento Geral de Polícia”. Bernardes logo ao tomar posse, a 20 de novembro de 1922, assinou decreto que, entre outras medidas relativas à polícia, institui a 4ª delegacia auxiliar, formalizando assim a existência de uma polícia política na então capital do país.[64] Como chefe da nova repartição policial foi colocado o major Carlos da Silva Reis, significativamente mais tarde enviado à Itália Fascista, para estudar sua legislação trabalhista, com vistas à sua adaptação ao Brasil.
Para os anarquistas do Brasil, o período Bernardes (1922-1926), sob estado de sítio, vai caracterizar-se por prisões em massa, deportações e, acima de tudo, por serem enviados para o campo de concentração de Clevelândia, no então território do Amapá, próximo à fronteira com a Guiana, onde vários virão a morrer em conseqüência de fome, doenças e maus tratos. E é na própria Clevelândia que um grupo de militantes ácratas reúne-se no 1º de Maio de 1925 para comemorar seu dia de luta, segundo depoimento de um deles, Domingos Passos, publicado no jornal anarco-sindicalista A Batalha de Lisboa.[65] Na mesma data, era lançado no Rio de Janeiro um Partido Socialista Brasileiro, com o apoio do PCB, com vistas a eleições que se realizariam no ano seguinte.[66]
Já em 1926 a vertente libertária do movimento operário tenta recuperar-se, mas o 1º de Maio deste ano apresenta pouca expressividade, em comparação com o brilho de maios anteriores. Algumas poucas publicações libertárias em São Paulo e do Rio Grande do Sul (menos atingido pela repressão) relembram o verdadeiro significado da data.[67] No comício da praça Mauá no Rio de Janeiro, o ex-anarquista Pedro Bastos, agora a serviço do PCB, vocifera contra o anarquista Carlos Dias por este ter sido escolhido para representar os trabalhadores brasileiros no congresso da Organização Internacional do Trabalho em Genebra.[68] Dois anos depois, Bastos estaria envolvido em um episódio no Sindicato dos Gráficos do Rio de Janeiro, em que membros do PCB atiraram sobre militantes anarquistas indefesos, matando um deles, o sapateiro Antonino Dominguez.
As comemorações de 1927 no Rio de Janeiro ainda apresentam um certo brilho, mas continuam mantendo a separação entre os comícios da Praça 11 (anarquistas) e Praça Mauá (comunistas e pelegos). Publicações libertárias dão destaque à data em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, A Plebe havia voltado a circular, mas por pouco tempo, pois seria novamente proibida ao dar destaque às manifestações contra a execução de Sacco e Vanzetti nos Estados Unidos (agosto de 1927).[69] No comício da Praça 11 comparecem mais de 60 mil pessoas (depoimento do militante anarquista Manuel Lopes).[70]
Até 1929 continuaram no Rio de Janeiro as manifestações do 1º de Maio, mas sem a mesma expressividade de outros tempos. Uma nova era prenunciava-se com o advento da década de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
As oligarquias que comandavam a Primeira República, instituída em 1889, passam a desentender-se. A ruptura final ocorre em torno da sucessão presidencial de Washington Luís (1926-1930); Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul, candidata-se à presidência pela chamada Aliança Liberal contra o paulista Júlio Prestes, candidato da situação. Prestes vence o pleito, em eleições fraudulentas, o que precipita um movimento armado em outubro de 1930, que levaria Getúlio ao Palácio do Catete, sede presidencial no Rio, por um “curto período” de quinze anos, complementado por outros três (1951-1954), quando eleito por voto direto antes de seu suicídio, em meio a grave crise política.

Vargas desfilando na concentração trabalhista de 1º de Maio no estádio do Pacaembu, São Paulo, 1944. (CPDOC/AMF foto 008/7)
Durante a era Vargas o sindicalismo livre, que havia permitido um formidável vetor social aos anarquistas, sofrerá duros golpes, de certa forma antecipados no governo de Bernardes. A década de 1930 verá surgir no Brasil um poderoso partido de inspiração fascista, a Ação Integralista Brasileira, que chega a se constituir em movimento de massas com centenas de milhares de filiados por todo o Brasil. Vargas, por sua vez, embora com uma aproximação cada vez maior dos governos das potências nazifascistas, que contavam com numerosos simpatizantes entre a elite política e social brasileira, acabará enganando os fascistas locais, e instalando sua própria ditadura em 1937, após esmagar tentativa insurrecional do PCB em 1935. A ofensiva varguista em relação aos sindicatos se dará em três frentes:
1. Repressão policial. Com o aperfeiçoamento do aparato policial de caráter político herdado da antiga república (vide Bernardes), tomando como modelo aparelhos repressivos montados pelas polícias fascistas européias. Tal repressão terá grande incremento a partir dos acontecimentos de 1935, com prisões em massa, torturas e assassinatos de liberais e militantes de esquerda (os anarquistas entre eles).
2. Emissão de legislação incidindo sobre o movimento sindical. Tal legislação criou de imediato o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (Decreto 19.443, de 20 de novembro de 1930), basicamente encarregado de controlar pelo governo a questão sindical. Outras leis emitidas no período Vargas restringiam o acesso aos cargos sindicais apenas a pessoas previamente avaliadas pelas autoridades, obrigando os trabalhadores a possuírem um único sindicato para cada categoria e instituem o imposto sindical. Após o golpe de estado de 1937, apenas os sindicatos reconhecidos pelo governo (ou seja, sob seu domínio) teriam existência legal reconhecida.[71] Para adoçar estas e outras medidas, diretamente copiadas da legislação fascista italiana, Vargas decreta em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho, que garantia direitos básicos ao trabalhador, no mesmo ano em que falando no rádio no 1º de Maio insiste sobre a necessidade da sindicalização obrigatória, lançando campanha neste sentido.[72]
3. Apropriação do 1º de Maio por Vargas. Para efeito de propaganda, principalmente a partir da implantação do Estado novo em 1937, o 1º de Maio torna-se uma festa getulista, recheada de cerimônias e desfiles, com Vargas discursando aos “Trabalhadores do Brasil”, enquanto mulheres, colegiais e desportistas marchavam disciplinadamente para agradecer direitos recebidos de Vargas “pai dos pobres” e “mãe dos ricos”.

Concentração trabalhista de 1º de Maio no estádio do Pacaembu, São Paulo, 1944. (CPDOC/CDA Vargas)
Apesar desta ofensiva autoritária sobre o sindicalismo livre, há resistência por parte dos trabalhadores pela domesticação e cooptação de seu movimento. A 1º de maio de 1931, a União Operária do Paraná relembra a origem do 1º de Maio como dia de protesto e luta em seu jornal O Operário, mais uma vez protestando contra:
“uma das mais clamorosas injustiças registradas nas páginas da história: o enforcamento, numa das praças públicas de Chicago, nos Estados Unidos, dos idealistas proletários”.[73]
Significativamente, o 1º de Maio de 1931 passou-se entre conflitos entre a polícia e os manifestantes, principalmente no Rio de Janeiro (com dois feridos à bala) e em Recife. Em 1932, mesmo com uma cena política tumultuada, que culminaria em junho com uma revolta da oligarquia paulista, que se sentia preterida por Vargas, na chamada Revolução Constitucionalista, o 1º de Maio é comemorado na capital daquele estado com diversos comícios promovidos pela Federação Operária e os sindicatos a ela filiados em vários bairros da cidade.[74] Naquele ano, chamam novamente a atenção as comemorações em Curitiba, que apontam para a origem classista da data, relembrando os mártires de Chicago, contrapondo-se àqueles que dela pretendem fazer apenas um momento festivo.[75] No Rio de Janeiro, os trabalhadores distribuíram um manifesto conclamando os operários a manterem-se à margem da política institucional e eleitoral, apelando pela sua união, pela liberdade sindical, contra os fascistas, a Igreja Católica, “os pseudo-socialistas, pseudo-comunistas, provocadores e ambiciosos”.[76]
É ainda em Curitiba que a Federação Operária do Paraná, ainda sob forte influência anarquista, lança seu jornal 1º de Maio, no 1º de maio de 1933. Em São Paulo, na mesma data, os chapeleiros lançam seu jornal O Trabalhador Chapeleiro, sob a bandeira anarco-sindicalista, totalmente dedicado aos Mártires de Chicago. Mas as manifestações foram proibidas pelas autoridades. Mesmo assim, a Federação Operária de São Paulo convocou um comício na Praça da Sé. Com a suspensão do comício pela polícia, centenas de trabalhadores marcharam até à sede da Federação cantando a Internacional. A polícia então invadiu a sede da Federação Operária de São Paulo, interditando-a por dois dias e prendendo todos os que ali se encontravam, só os libertando à noite.[77] No Rio de Janeiro, a escalada fascista resultava na fundação, durante o 1º de Maio, de uma publicação destinada a combatê-la, um jornal também denominado Primeiro de Maio.[78]
No ano seguinte, em um primeiro de maio denominado de “maio sem sol”, as comemorações em São Paulo iniciaram-se a 30 de abril, com um festival de confraternização no Salão Celso Garcia, com a presença dos sindicatos filiados à Federação Operária de São Paulo, conferência e representação de peça de teatro social. No dia seguinte, as comemorações transferiram-se para a sede da Federação, onde se constituiu um Plenário-Conferência Pró Organização da Confederação Operária Brasileira, central sindical de inspiração anarco-sindicalista, e visando à realização do 4º Congresso Operário Nacional.[79] As comemorações ocorrem regularmente em cidades como Jundiaí, Campinas, Santos e Rio de Janeiro.[80]

Manifestação cívica no Dia do Trabalho em homenagem a Vargas no estádio do Vasco da Gama, Rio de Janeiro, 1941. (CPDOC/ CDA Vargas)
O projeto dos anarquistas de, em meio à crescente violência da repressão policial e de limitações de liberdades públicas e sindicais, refundar uma central sindical de matriz libertário não obtive êxito, em vista da perseguição ainda mais violenta que se abateu sobre os movimentos sociais a partir do final de 1935, de que muitos anarquistas também foram vítimas. As comemorações de 1º de Maio com caráter de luta tendiam cada vez mais a decair ou a sumir de cenário. Até mesmo os fascistas da Ação Integralista tentam apoderar-se da data, como se confere por proclamação integralista em Porto Alegre, no 1º de Maio de 1937, apontando para Convenção Trabalhista que teriam realizado no Rio em dezembro de 1936.[81] Mas para os fascistas ideológicos será inútil. Getulio os usará como suporte para seu próprio golpe de estado a 10 de novembro de 1937, instaurando uma ditadura que irá até 1945. No decorrer do Estado Novo, como já observado, o 1º de Maio será comemorado com desfiles e paradas de agradecimento ao regime e sua glorificação, com os sindicatos totalmente atrelados à máquina estatal e sendo dirigidos por elementos de confiança do governo. Para os verdadeiros construtores e mantenedores de um 1º de Maio de luta e protesto, só restava a perseguição e a prisão, se colocassem oposição ao projeto autoritário varguista.
Com a deposição de Vargas e o fim do chamado Estado Novo em 1945, a situação em relação ao controle dos sindicatos praticamente em nada se modificou. Mantida a legislação getulista, copiada do fascismo italiano, os mecanismos para o domínio de pelegos e reformistas continuaram a asfixiar qualquer tentativa de um sindicalismo livre, apolítico (no sentido de não participar da política partidária), classista e combativo. Os anarquistas, que haviam sido decisivos na sua construção e manutenção, continuaram a ser deles alijados, embora tentassem voltar a inserir-se nos sindicatos. No entanto, se estas condições objetivas impediam um renascimento do sindicalismo revolucionário, que desde a década de 1920 sofreu dura repressão e esvaziamento por via legislativa, é preciso também notar que, historicamente, os anarquistas do Brasil ressentiram-se da falta de organizações específicas e orgânicas (embora algumas tenham existido), diluindo-se seus militantes em meio ao sindicalismo, muitas vezes sem uma visão clara dos fins da militância anarquista.
Ao final da ditadura varguista, o movimento operário independente havia sido esmagado pela máquina estatal e pela atuação aparelhista e política do PCB. O anarquismo tende cada vez mais a concentrar-se em um número menor de militantes, porém mais conscientes ideologicamente. As comemorações do 1º de Maio continuam a ter um cunho oficial, já que os sindicatos continuam atrelados ao Estado.

A Plebe – São Paulo, número 1, nova fase, 1º de maio de 1947. Acervo do AMORJ, coleção ASMOB.
A 1º de maio de 1946, o jornal anarquista Ação Direta, que começara a ser editado no Rio de Janeiro pouco tempo antes, procura esclarecer seus leitores sobre o real significado da data, contrariando o tom cada vez mais festivo que se procura imprimir a esta, como continuavam gritando “os políticos malandros da velha burguesia, ou da burguesia novíssima, a tal progressista”. Os militantes anarquistas que conseguiram escapar à fúria repressora dos últimos anos reuniram-se no dia 30 de abril em um espetáculo de teatro social em São Paulo. No dia seguinte, houve uma sessão no Salão das Casses Laboriosas naquela cidade. Comemorações anarquistas ocorreram em outros pontos do Brasil, com a distribuição de manifestos.[82] No 1º de Maio de 1947, ressurge em São Paulo A Plebe, antiga publicação anarquista grandemente influenciada pelo sindicalismo revolucionário, que não era publicada desde 1945, agora em sua última fase, que iria até 1951.[83] Os anarquistas manterão procedimentos similares nas comemorações do 1º de Maio dos anos seguintes, com sua imprensa alternativa alertando os trabalhadores sobre o real significado da data. Em 1958, passarão a editar um jornal voltado para o sindicalismo, Ação Sindical. Um dos trabalhadores que ali colaboravam, o sapateiro anarquista Pedro Catalo (1901-1969), analisava em texto publicado na 1ª edição daquela publicação:
“Os sindicatos, tal como estão hoje aqui no Brasil e em boa parte do mundo (…) desencantam e amortecem as mais vivas paixões que possam povoar os anseios proletários. São peças justapostas de uma máquina montada pelos governantes, com a finalidade única de manobrar os trabalhadores, reduzindo-os a conglomerados numéricos, sem vontade própria e sem expressão ideológica. São órgãos desvitalizados, anêmicos de pensamentos, paupérrimos de pretensões, sujeitos terminantemente à intervenção ministerial.”[84]
Catalo continuava seu texto exprimindo a esperança de que este “ciclo de hibernação” dos trabalhadores estivesse por terminar, acrescentando, no entanto, que este seria “um despertar lento, porém marcante e decisivo”. Catalo, no mesmo texto, manifestava ainda a crença de que aos sindicatos caberia ainda “organizar a produção, o consumo e a distribuição. A missão histórica dos sindicatos proletários é a de moralizar o gênero humano (…).”[85]
Nos anos seguintes, pouco mudou o panorama sindical brasileiro e, consequentemente, o 1º de Maio. O sindicalismo reformista continuou fortalecendo-se, com o PCB tentando auferir vantagens para si dentro desta estrutura. A situação piorou com o golpe militar de 1º de abril de 1964, resposta da direita ao populismo do presidente João Goulart, herdeiro direto da tradição varguista, golpe que contou com o apoio do imperialismo norte-americano e instalou no poder uma ditadura militar que se estenderia até 1985. Neste período, militantes anarquistas também foram presos e torturados, assim como os de todas as correntes de esquerda. Ao final da década de 1970, já na fase terminal da ditadura, com o surgimento de um movimento sindical no ABC paulista, com greves de enfrentamento à ditadura, com o surgimento de um sindicalismo que questionava o papel oficial dos sindicatos, houve alguma esperança entre os libertários de que houvesse a retomada de um sindicalismo independente. Tal esperança manteve-se por muito curto espaço de tempo, com a fundação logo em seguida do Partido dos Trabalhadores (PT), que conduziu os operários para a via política partidária institucional. Os resultados que vemos hoje, são de um PT que agora é partido de governo e está aliado ao que há de mais deletério na política institucional brasileira. Sua central sindical, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), cumpre novamente o mesmo velho papel de correia de transmissão dos governantes para os trabalhadores.

Mártires de Chicago
Por outro lado, o fim da ditadura significou a emergência de outros espaços de luta social (associações de moradores por um curto espaço de tempo, movimentos de sem-terra, sem-teto, desempregados, etc.) onde hoje se inserem os anarquistas organizados, sem haver abandonado suas tentativas de inclusão no movimento sindical. Nestes espaços, os anarquistas podem e devem realizar significativa participação, fiéis aos princípios que orientaram os Mártires de Chicago em 1886.
(*) Jornalista, coordenador do Núcleo de Pesquisa Marques da Costa (dedicado à preservação e defesa da memória anarquista), integrante da Federação Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ).
_
NOTAS
[1] Caio Prado Júnior. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1981, pp. 259-261. Boris Fausto. Trabalho Urbano e Conflito Social. São Paulo: DIFEL, 1983, pp.17-18.
[2] Sheldon Leslie Maram. Anarquistas, Imigrantes e o Movimento Operário Brasileiro 1890-1920. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p.13.
[3] Everardo Dias. História das Lutas Sociais no Brasil. 2ª ed., São Paulo: Alfa-Ômega, 1977, pp. 45-46.
[4] Ibidem, p. 46.
[5] Ibidem, pp. 48, 243, 327.
[6] Afonso Schmidt, São Paulo de Meus Amores/Lembrança (Crônicas). São Paulo: Brasiliense, s.d., pp. 223-225.
[7] Ibidem, p. 223-225.
[8] 1890-1990 Cem Vezes Primeiro de Maio. São Paulo, Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal de Cultura, 1990, p.104. Paulo Sérgio Pinheiro e Michael Hall (Org.) A Classe Operária no Brasil 1889-1930 Documentos Vol.II. São Paulo: Brasiliense, 1981, p. 240.
[9] Jacy Alves de Seixas. Mémoire et Oubli Anarchisme et Syndicalisme Révolutionnaire au Brésil. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1992, p. 72.
[10] Ver artigo de Augusto Donati, Recordemos, pois. In: O Amigo do Povo, São Paulo, Ano I, número 4, 24 de maio de 1902.
[11] Seixas, op. cit, p. 53.
[12] Ibidem, p.72.
[13] Ver Candido de Mello Neto. O Anarquismo Experimental de Giovanni Rossi De Poggio al Maré à Colônia Cecília 2ª ed., Ponta Grossa: Editora UEPG, 1998.
[14] Edgard Carone. A II Internacional pelos seus Congressos (1889-1914). São Paulo: Editora Anita / Editora da Universidade de São Paulo, 1993, pp.31-36.
[15] Ibidem, pp. 47-53.
[16] José Luiz del Roio. 1º de Maio. Cem Anos de Luta 1886 – 1986. São Paulo: Global Editora, 1986, p. 97.
[17] Euclides da Cunha. Obra Completa, vol. I. Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar Editora, 1966, p. 606.
[18] Referência aos anarquistas que defendiam a “propaganda pelo fato”, principalmente com a explosão de bombas e atentados contra membros da burguesia.
[19] Sílvio Rabelo. Euclides da Cunha. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, pp. 38-41.
[20] Cunha, Op. Cit., p. 556.
[21] Clóvis Moura. Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964, p. 119.
[22] Dias, op.cit., pp. 328-329.
[23] Moura, op.cit.
[24] Ibidem, p.107. Cunha, op. cit., p. 190 e seguintes.
[25] João Batista Marçal. A Imprensa Operária do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: edição do autor, 2004, pp. 93-94.
[26] Pinheiro e Hall, vol. 2, op. cit. pp. 240-241.
[27] Hermínio Linhares. Contribuição à História das Lutas Operárias no Brasil. 2ª ed., São Paulo, Alfa-Ômega, 1977, p. 37.
[28] Dias, op.cit., p. 325.
[29] Benjamim Mota. Notas para a História – Violências Policiais contra o Proletariado – Ontem e Hoje. In: A Plebe, 31 de maio 1919, transcrito em Pinheiro e Hall, op.cit., Vol. 1, p. 24.
[30] Seixas, op.cit., p. 77.
[31] Benjamim Mota. Rebeldias. São Paulo: Tipografia Brasil de Carlos Gerke & Cia., 1898.
[32] Mota, depoimento citado.
[33] Ibidem.
[34] Alcina de Lara Cardoso e Sílvia Pereira de Araújo. 1º de Maio Cem Anos de Solidariedade e Luta. Curitiba: Beija Flor Editora, 1986, p. 24.
[35] Ibidem, A Festa do Trabalho.
[36] Dias, op.cit., pp. 327-328.
[37] Maria Lúcia Caira Gitahy. Ventos do Mar Trabalhadores do Porto, Movimento Operário e Cultura Urbana em Santos, 1889-1914. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992, p. 61.
[38] Edgard Carone. Movimento Operário no Brasil (1877-1944). São Paulo: Difel, 1979, pp. 148-149.
[39] Pausílipo da Fonseca. Festa do Trabalho in A Greve. Rio de Janeiro, Ano I, número 2, 15 de maio de 1903.
[40] Manuel Moscoso. O 1º de Maio no Rio. In: O Amigo do Povo, Ano III, número 53, São Paulo, 14 de maio de 1904.
[41] Pinheiro e Hall, Vol. I, op.cit, p.47.
[42] Pinheiro e Hall, Vol. I, op.cit., p. 53.
[43] Dias, op.cit., pp. 265-267; Roio, op.cit, pp. 110-111.
[44] Cardoso e Araújo, op.cit., pp. 30-31.
[45] Dias, op. cit., p. 274.
[46] Sílvia Regina Ferraz Petersen. “Que a União Operária Seja Nossa Pátria”. História das Lutas dos Operários Gaúchos para Construir suas Organizações. Santa Maria: Editora UFSM; Porto Alegre: Editora Universidade UFRGS, 2001, p.292, citando notícia do Correio do Povo de Porto Alegre, de 2 de maio de 1913.
[47] Neno Vasco. O Significado do 1º de Maio. In: A Voz do Trabalhador, Ano VII, números 53-64, 1º de maio de 1914.
[48] 1º de Maio. In: A Revolta, Santos, Ano II, número 7, 1º de maio de 1914.
[49] Fernandes Varela, Data de Sangue in Luta Social, Manaus, 1º Ano, número 2, ode maio de 1914.
[50] Rôo, op.cit., p. 131.
[51] 1º de Maio. In: Na Barricada, Rio de Janeiro, Ano II, número 4, 1º de maio de 1916.
[52] Roio, op.cit., p. 135.
[53] Edgar Rodrigues, Nacionalismo e Cultura Social. Rio de Janeiro: Laemmert, 1972, pp. 265-266.
[54] Moniz Bandeira, Clóvis Melo e A. T. Andrade. O Ano Vermelho A Revolução Russa e seus Reflexos no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967, p. 181, citando o jornal do Rio A Razão de 2 de maio de 1919.
[55] Ibidem, pp. 182-183.
[56] Ibidem, pp. 183-184.
[57] John W. Foster Dulles. Anarquistas e Comunistas no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
[58] Uma Carta de Sacco e Vanzetti ao Proletariado Revolucionário. In: A Plebe, São Paulo, Ano VI, número 208, 1º de maio de 1923.
[59] Edgar Rodrigues. Novos Rumos. Rio de Janeiro: Edições Mundo Livre, 1976. pp. 67-71.
[60] Dulles, op.cit., p. 173.
[61] Dulles, op. cit., pp.184-185.
[62] Ibidem, p. 185.
[63] Ibidem, p. 186, citando A Plebe número 238, de 31 de maio de 1924.
[64] Alexandre Samis, Clevelândia: Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. São Paulo: Editora Imaginário; Rio de Janeiro: Achiamé, 2002, pp. 93-98.
[65] Samis, op.cit., p. 324.
[66] Dulles, op.cit., p. 231.
[67] Edgar Rodrigues. Novos Rumos, p. 256.
[68] Dulles, op.cit, p. 240.
[69] Edgar Rodrigues. Novos Rumos, p. 264.
[70] Ibidem, p. 267.
[71] Evaristo de Moraes Filho. O Problema do Sindicato Único no Brasil Seus Fundamentos Sociológicos. 2ª ed., São Paulo: Alfa-Ômega, p. 216 e seguintes.
[72] Ibidem, p. 256 e segs.
[73] Cardoso e Araújo, op.cit., p. 50.
[74] Edgar Rodrigues. O Ressurgir do Anarquismo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1993, p. 19.
[75] Cardoso e Araújo, op.cit., pp. 50-51; Edgar Rodrigues. Novos Rumos, p. 341.
[76] Edgar Rodrigues. O Ressurgir do Anarquismo, p. 20.
[77] Dulles, op.cit., pp. 407-408.
[78] Edgar Rodrigues. Novos Rumos, p. 375.
[79] Edgar Rodrigues. Alvorada Operária. Rio de Janeiro: Edições Mundo Livre, 1979, pp. 300-302; Novos Rumos, pp. 374-375.
[80] Rodrigues, O Ressurgir do Anarquismo, p. 27.
[81] Sílvia Regina Ferraz Petersen e Maria Elizabeth Lucas (org.). Antologia do Movimento Operário Gaúcho 1870-1937. Porto Alegre: editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1992, pp. 484-485.
[82] Edgar Rodrigues. A Nova Aurora Libertária (1945-1948), Rio de Janeiro: Achiamé, 1992.
[83] A Plebe, São Paulo, Ano 30, número 15, 1º de maio de 1947.
[84] Edgar Rodrigues. Entre Ditaduras (1948-1962). Rio de Janeiro: Achiamé, 1993, pp. 170-171.
[85] Ibidem.
_
BIBLIOGRAFIA
BANDEIRA, Moniz; MELO, Clóvis; ANDRADE, A. T.. O Ano Vermelho: A Revolução Russa e seus Reflexos no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967.
CARDOSO, Alcina de Lara e ARAÚJO, Sílvia Pereira de. 1º de Maio: Cem Anos de Solidariedade e Luta. Curitiba, Beija Flor Editora, 1986.
CARONE, Edgard. A II Internacional pelos seus Congressos (1889-1914). São Paulo, Editora Anita; Editora da Universidade de São Paulo, 1993.
_. Movimento Operário no Brasil (1877-1944). São Paulo, Difel, 1979.
CUNHA, Euclides da. Obra Completa, Volume 1, Rio de Janeiro, Aguilar, 1966.
DIAS, Everardo. História das Lutas Sociais no Brasil. 2ª ed., São Paulo, Alfa-Ômega, 1977.
DULLES, John W. F.. Anarquistas e Comunistas no Brasil. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1977.
FAUSTO, Boris. Trabalho Urbano e Conflito Social. São Paulo, DIFEL, 1983.
GITAHY, Maria Lúcia Caira. Ventos do Mar, Trabalhadores do Porto, Movimento Operário e Cultura Urbana em Santos, 1889-1914. São Paulo, Editora da UNESP, 1992.
LINHARES, Hermínio. Contribuição à História das Lutas Operárias no Brasil. 2ª ed., São Paulo, Alfa-Ômega, 1977.
MARÇAL, João Batista. A Imprensa Operária do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, edição do autor, 2004.
MELLO NETO, Candido de. O Anarquismo Experimental de Giovanni Rossi. 2ª ed., Ponta Grossa, Editora UEPG, 1998.
MORAES FILHO, Evaristo de. O Problema do Sindicato Único no Brasil: Seus Fundametos Sociológicos. 2ª ed., São Paulo, Alfa-Ômega, 1978.
MOTA, Benjamim. Rebeldias. São Paulo, Tipografia Brasil de Carlos Gerke & Cia., 1898.
MOURA, Clóvis. Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964.
PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz Petersen e LUCAS, Maria Elizabeth (org.). Antologia do Movimento Operário Gaúcho (1870-1937). Porto Alegre, editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1992.
PETERSEN, Sílvia Regina Ferraz Petersen. “Que a União Operária Seja Nossa Pátria!” História das Lutas dos Operários Gaúchos: Para Construir suas Organizações. Santa Maria: editora UFSM; Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001.
PINHEIRO, Paulo Sérgio e HALL Michael. A Classe Operária no Brasil – 1889-1930 – Documentos. Volume 1. São Paulo, Editora Alfa-Ômega,1979.
_. A Classe Operária no Brasil. Volume 2. São Paulo, Editora Brasiliense, 1981.
PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. 45ª ed., São Paulo, Brasiliense, 2002.
RABELO, Sílvio. Euclides da Cunha, 2ª ed., Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1966.
RODRIGUES, Edgar. Nacionalismo e Cultura Social. Rio de Janeiro, Editora Laemmert, 1972.
_. Novos Rumos. Rio de Janeiro, Edições Mundo Livre, 1976.
_. Alvorada Operária. Rio de Janeiro, Edições Mundo Livre, 1979.
_. A Nova Aurora Libertária (1945-1948). Rio de Janeiro, Achiamé, 1992.
_. O Ressurgir do Anarquismo 1962-1980. Rio de Janeiro, Achiamé, 1993.
_. Entre Ditaduras (1948-1962). Rio de Janeiro, Achiamé, 1993.
ROIO José Luiz del. 1º de Maio Cem Anos de Luta 1886 – 1986. São Paulo, Global Editora, 1986.
SAMIS, Alexandre. Clevelândia: Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. São Paulo, Editora Imaginário; Rio de Janeiro, Achiamé, 2002.
SCHMIDT, Afonso. São Paulo de Meus Amores/Lembrança (Crônicas). São Paulo, Brasiliense, s.d.
SEIXAS Jacy Alves de. Mémoire et Oubli Anarchisme et Syndicalisme Révolutionnaire au Brésil, Paris, Èditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1992.
INFORMATIVOS, COLETÂNEAS ETC
1890-1990. Cem Vezes Primeiro de Maio. São Paulo, Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal de Cultura, 1990.
A Voz do Trabalhador. Coleção Fac-Similar do Jornal da Confederação Operária Brasileira 1908-1915. São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1985.
JORNAIS
O Amigo do Povo, São Paulo, Ano I, número 4, 25 de maio de 1902; Ano III, número 53, 14 de maio de 1904.
A Greve, Rio de Janeiro, Ano I, número 2, 15 de maio de 1903.
A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, Ano VI, número 30, 1º de maio de 1913; Ano VII, números 53-64, 1º de maio de 1914.
A Revolta, Santos, Ano II, número 7, 1º de maio de 1914.
A Luta Social, Manaus, 1º Ano, número 2, 1º de maio de 1914.
Na Barricada, Rio de Janeiro, Ano II, número 4, 1º de maio de 1916.
A Plebe, São Paulo, Ano 30, número 15, nova fase, 1º de maio de 1947.
Fonte: